Carlos Tavares era presidente da CMVM quando o BES caiu. Defende a intervenção do supervisor do mercado de capitais, mas também uma reforma do sistema. E pede mudanças nas nomeações.
Há dez anos, Carlos Tavares era presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) quando o BES fez um aumento de capital de 1.045 milhões de euros que acabaria por ser um mau investimento para milhares de acionistas e poucas semanas antes da resolução do BES, a 3 de agosto. Em entrevista ao ECO, o economista faz uma avaliação do que foi a intervenção do regulador de mercado de capitais — “a CMVM, o que tem de garantir é que a informação que chega aos acionistas é correta, é completa, é verdadeira, portanto, uma informação confiável” — e o que o país aprendeu depois da queda do grupo da família Espírito Santo.
Passados dez anos da falência do BES, e com toda a informação hoje disponível, como avalia a intervenção da CMVM no processo?
Tem sido um tema por vezes falado nem sempre da melhor maneira, porque quando quando foi efetivamente capital do Espírito Santo, era uma necessidade do banco aumentar o capital. Foi, aliás, uma exigência do supervisor prudencial, o Banco Portugal, que exigiu o aumento de capital, foi colocado no mercado por um sindicato de primeira linha e o papel da CMVM não é aprovar o aumento de capital, quem aprova aumentos de capital são os órgãos próprios da sociedade e, neste caso, por pressão, em meu entender correta, do supervisor. A CMVM, o que tem que garantir é que a informação que chega aos acionistas é correta, é completa, é verdadeira, portanto, uma informação confiável. E foi isso que a CMVM tentou fazer.
O prospeto foi objeto de uma análise muito detalhada, com um prazo de aprovação anormalmente longo, de quase um mês e quase 30 versões do prospeto até chegar à versão final que foi concluída no último dia com uma informação que CMVM não tinha…
Qual?
…a situação no grupo Espírito Santo, na ESI, que, não sendo o emitente, era, todavia, um dos acionistas principais do banco e, como se dizia no prospeto, a situação desequilibrada e a praticamente situação de falência técnica da ESI poderia afetar o valor das ações. Não era, todavia, um problema do próprio banco. O Banco de Portugal tinha adotada chamada política de ring fencing, teria de se presumir que, apesar de tudo, podendo afetar o valor das ações e a reputação do banco, não era propriamente um problema. Portanto, o prospeto foi aprovado com toda a informação e a imprensa, aliás, fez questão de referir que o prospeto continha uma enumeração de riscos e de situações muito preocupantes, dizia-se até que era prospeto demolidor, portanto, não foi por falta de alertas que os investidores subscreveram e o aumento de capital.
Surpreendeu-o, ainda assim, a capacidade de colocação de ações com esse prospeto “demolidor”?
Não surpreendeu especialmente porque, na altura, o sindicato era muito forte, com instituições financeiras de primeira linha. A parte tomada por pequenos investidores foi relativamente pequena, na prática, foram investidores profissionais que tomaram o aumento de capital. Pior foi, depois, o facto dessas ações, num período posterior, terem sido adquiridas por pequenos acionistas quando os preços começaram a baixar e as coisas começaram a complicar-se. Em termos de informação sobre o banco especificamente, não havia dos auditores nada de preocupante que tivesse sido assinalada, embora se fizesse a referência que o prospeto estava aprovado com base numa informação de contas trimestrais não auditadas de março, do final do primeiro trimestre.
Quando é que houve o primeiro alerta sobre o BES?
O primeiro alerta, curiosamente, surge já depois da concretização do aumento de capital, quando o auditor escreveu ao Banco Portugal e à CMVM, a 10 de julho, a dizer que, contrariamente às orientações do Banco Portugal, a exposição do banco à parte não financeira do Grupo Espírito Santo tinha aumentado muito. Portanto, aquilo que era anteriormente só um problema reputacional de imagem tinha-se transformado num problema efetivo de necessidade de capital adicional.
Tendo em conta o que se sabe hoje, a CMVM poderia ter feito outra coisa?
A CMVM, nessa altura, não poderia ter feito grande coisa, nem poderia ter feito nada. A CMVM fez o que deveria fazer e não poderia nem deveria ter feito mais nada em relação ao aumento de capital. Depois disso, quando surge essa informação que não estava disponível nem para nós nem para o Banco Portugal, feita pelos auditores a 10 de julho, o próprio Banco de Portugal emitiu, no mesmo dia, salvo erro, ou no dia seguinte, um comunicado a dizer que tinha sido levantado um problema, mas que o capital do banco ainda acomodava os riscos acrescidos que tinham sido detetados pelos auditores. Quando o supervisor prudencial faz esta afirmação, que é a mais fidedigna que podemos ter, a CMVM não poderia… a menos que viesse pôr em causa a palavra do Banco de Portugal, o que não poderia nem deveria fazer.
Durante aquele mês de julho, com tudo o que aconteceu, a CMVM foi alertando apenas para algo que não estava considerado naquilo que tinha vindo a lume, o risco de preço dos produtos que tinham sido colocados nos clientes, para os quais o banco na prática, tinha assumido um compromisso de reembolso pelo valor nominal dos títulos e que, na nossa avaliação, poderiam ter um problema de valor de mercado (…) Uma vez mais, o Banco de Portugal faz um comunicado muito tranquilizador.
Durante aquele mês de julho, com tudo o que aconteceu, a CMVM foi alertando apenas para algo que não estava considerado naquilo que tinha vindo a lume, o risco de preço dos produtos que tinham sido colocados nos clientes, para os quais o banco na prática, tinha assumido um compromisso de reembolso pelo valor nominal dos títulos e que, na nossa avaliação, poderiam ter um problema de valor de mercado, porque eram títulos baseados em ativos do Grupo Espírito Santo, pedimos aos auditores que fizessem uma estimativa desse prejuízo adicional que o banco poderia ter se cumprisse o compromisso de reembolsar esses títulos. Foi precisamente essa diferença que determinou uma necessidade de capital adicional da ordem dos 1500 milhões de euros, que acabou por determinar o agravamento dos resultados que foram publicados a 30 de julho [exatamente um mês antes da realização desta entrevista].
Uma vez mais, o Banco de Portugal faz um comunicado muito tranquilizador, dizendo que, primeiro, o BES precisava de novo aumento de capital, e era verdade face a esta deterioração de resultados, que haveria investidores privados interessados no aumento de capital e que, em último caso, haveria a linha de recapitalização pública que tinha de fundos disponíveis.
À data, dos 12 mil milhões, existiam disponíveis seis mil milhões ainda disponíveis…
…simultaneamente, viemos a saber, estava a ser notificada à Comissão Europeia, e já decidida, uma medida de resolução sobre a qual a CMVM não foi informada. Aliás, teve conhecimento da resolução no próprio dia, a três de agosto. E isto é que foi, no meu entender, o grande erro e que, penso, hoje não se faria.
Como é evidente, o modelo de resolução que foi adotado não é o adequado para uma empresa cotada. Uma empresa que está no mercado tem que ter informação transparente, em que os acionistas transacionam as ações com base na informação que tem de ser pública e completa e verdadeira. Ora, haver decisões que estão a ser tomadas sem que os acionistas tenham conhecimento delas nem possam a elas reagira… Numa empresa que é cotada, a primeira coisa que deveria ter sido feita quando se constata a necessidade de capital nacional era ir aos próprios acionistas e pedir lhes para aumentar o capital.
Se os acionistas não acorressem, teriam se ser procurados outros acionistas privados e, em último caso, como disse o Banco de Portugal na altura, haveria em último caso a linha de recapitalização pública, como aconteceu noutros países, em Inglaterra, por exemplo.
Com base naquilo que se passou e nas consequências que teve, o processo de resolução tem hoje um custo, uma estimativa que fiz quando fui pela última vez à Comissão de Inquérito, rondava já os 18 mil milhões de euros se considerarmos todas as entidades que foram afetadas, isto é. O Estado, acionistas e obrigacionistas, detentores de de papel comercial, detentores de produtos de gestão de carteiras, todos estes foram afetados. E isto ainda não acabou.
Porquê?
Quando acabar o processo de liquidação do [chamado] BES mau, há uma regra que diz que nenhum credor pode ficar em situação pior do que aquela que teria ficado se o banco tivesse sido liquidado em 2014. E falta fazer essa conta.
Finalmente, também hoje sabemos que no caso de este processo, a evolução teve um tratamento, digamos, assimétrico entre depositantes e detentores de produtos que não eram depósitos, mas que os clientes, na prática, subscreveram como se fossem depósitos, e isso foi, digamos, um fator de desconfiança ou de maior descrença no mercado de capitais, portanto, o que foi sempre um problema na nossa economia, a falta de capital e a falta de um mercado de capitais que permita financiar os grandes investimentos, as grandes empresas, as pequenas também, agravou-se. As pessoas pensarão duas vezes entre fazer um depósito e adquirir títulos no mercado de capitais.
Nos últimos dez anos, os supervisores e reguladores passaram a ter outros instrumentos para outro tipo de intervenção nos bancos?
Em parte, sim. Primeiro, a regulamentação mudou bastante, não por causa do BES, mas por causa da crise financeira. Tornou-se muito mais apertada, nalguns casos até se passou para um aperto excessivo, mas também prefiro aqui pecar por excesso do que por defeito. Em determinada altura, por falta de capital, usou-se aquele modelo de participações cruzadas, os acionistas tomavam títulos dos bancos e os bancos financiavam os acionistas, isso passou-se no caso do BCP, no caso do BPN, também no caso do Banco Espírito Santo, em nenhum dos casos deu bons resultados, e isto hoje está mais restringido, até porque a participação dos bancos em empresas não financeiras é muito penalizada em termos de capital do banco.
Já está de acordo com o que entende mais adequado?
Ainda não foi ao ponto que sempre defendi, aliás enquanto estava na CMVM, que era a simples proibição dos bancos financiarem títulos próprios, ações ou obrigações. De qualquer maneira, a regulamentação está mais apertada e, portanto, os supervisores hoje têm têm um campo de atuação que é mais estrito. Depois, a maior parte dos bancos hoje tem a supervisão supranacional, o que tem um distanciamento que, nalguns casos, ajuda. Há um aspeto também que não passa só pelos supervisores…
Qual?
…também passa por saber se as linhas de defesa dentro das instituições estão a funcionar ou não. Ou seja, falo desde logo de administradores não executivos, comissões de auditoria e auditores. E isso é um aspeto essencial, porque os supervisores não podem ver tudo, tudo, embora a supervisão hoje seja muito mais intrusiva do que era. Começa tudo exatamente aí… E devo dizer que se olhar para o caso da Inapa, não fico muito tranquilo… Mais uma vez, é uma empresa cotada que aparece numa situação de insolvência em que os acionistas, na prática, vão perder tudo ou quase tudo e em que, aparentemente, nem auditores, conselho fiscal ou de auditoria, assinalaram…
E uma empresa em que o maior acionista era o Estado…
…Exato. Depois, esta falta de capital também levou à substituição de algumas participações de acionistas nacionais por acionistas não nacionais, alguns deles com origem em Estados. Isto também não ajuda os supervisores. É Evidente que são identificados e sabe-se quem são, mas é mais fácil um supervisor atuar e conhecer bem as intenções e atuação de um acionista europeu ou português ou de um acionista que é detido por um Estado estrangeiro. De qualquer modo, no caso português, faltaria algum passo que evitaria muito daquilo que se passou na altura.
Esteve numa comissão que propôs uma reforma do sistema.
Nós temos o tradicional modelo tripartido. Muitos países já evoluíram em sentido diferente. Na altura, o ministro Mário Centeno pediu a um grupo que eu coordenei um uma proposta de reforma do modelo de previsão financeira, foi apresentada publicamente na altura.
Qual era a proposta?
A proposta do grupo de trabalho que coordenei sublinhava as vantagens da separação entre a supervisão prudencial e a separação comportamental — correspondente aos chamados modelos de “twin peaks” — por permitir a adequada gestão dos conflitos de objetivos entre as duas: a supervisão prudencial visa garantir a estabilidade e a solvabilidade das instituições financeiras, enquanto a comportamental visa a proteção e a defesa dos interesses dos investidores e dos clientes. O grupo de trabalho propôs um modelo pragmático e que não punha em causa aquele objetivo último, que garantia desde logo a coordenação reforçada dos supervisores e a partilha vinculativa de informação através da institucionalização do Conselho de Supervisão e Estabilidade Financeira, que garantia também a participação equilibrada de todos os supervisores nas funções de Política Macroprudencial e de Resolução. As soluções propostas refletiam também as lições apreendidas com os casos que já referi, muito particularmente do BES.
Cada vez que vejo questões de nomeações… Nós tínhamos uma proposta de nomeações para os supervisores que passava por um concurso público e, depois, com base na apreciação de uma comissão especializada uma shortlist de três pessoas a apresentar ao Governo que, depois nomearia uma delas após a audição na Assembleia da República. No caso do governador do Banco e Portugal, íamos mais longe, a nomeação seria do Presidente da República depois de passar por este processo todo.
Se nem se consegue retirar o Fundo de Resolução do Banco de Portugal…
Exatamente. Essa era outra das propostas. Separar a resolução da entidade que tem a supervisão. Penso que estas ideias mantêm-se totalmente atualizadas, conjuntamente com outra… Cada vez que vejo questões de nomeações… Nós tínhamos uma proposta de nomeações para os supervisores que passava por um concurso público e, depois, com base na apreciação de uma comissão especializada uma shortlist de três pessoas a apresentar ao Governo que, depois nomearia uma delas após a audição na Assembleia da República. No caso do governador do Banco e Portugal, íamos mais longe, a nomeação seria do Presidente da República depois de passar por este processo todo. Acho que isso também se mantém atual e ajuda os supervisores na sua independência e na sua capacidade de intervenção. E, finalmente, outra coisa que ouço com preocupação é que os supervisores como a CMVM ou a Autoridade da Concorrência não têm a possibilidade de gerir os recursos humanos como querem, com alguma liberdade dentro do seu orçamento, devidamente aprovado pela Assembleia da República. Não podem estar dependentes de autorizações casuísticas do ministro das Finanças e muito menos sujeitos a cativações que são imprevisíveis.
Precisamente no contexto das nomeações, temos um governador que foi ministro das Finanças, temos um presidente da CMVM que saiu diretamente do Banco de Portugal. Isto não põe em causa a independência das instituições?
Se o processo de nomeação fosse nos termos que dissemos, essa questão nem se colocava, viessem eles donde viessem. Tinham passado por um processo de escrutínio, e sobretudo pela abertura a todos os interessados. Isto é uma defesa até para os governos. Nenhum governante tem conhecimento de todas as pessoas que possam estar interessadas, portanto, a melhor maneira é abrir o concurso aos interessados e depois avaliá-los. Este modelo que defendo é muito próximo do inglês, e como se sabe em Inglaterra não há contestação. O governador do Banco de Inglaterra já foi um canadiano…
O caso BES revelou o funcionamento de um grupo, mas também um modelo de funcionamento do país, uma relação de interesses e cumplicidades rentistas. Hoje, vê um país diferente passados dez anos?
Acho que, apesar de tudo, nesse aspeto está diferente e espero que seja cada vez mais diferente. Tem muito a ver com aquilo que dizia há pouco, a falta de capital e a utilização dos bancos para sustentar empresas e, por sua vez, essas empresas sustentarem o capital dos bancos. Na maior parte dos casos, baseados em administrações que eram fortes e que, na prática, eram quem se substituía aos acionistas na condução dos destinos dos bancos, administrações muitas vezes também com cumplicidade com o poder político.
A regulação europeia também mudou muito….
Também por força da própria regulamentação bancária e do que aconteceu, às vezes esquecemo-nos que, em caso do BCP, os acionistas também perderam muito dinheiro. E no caso BPN também. Todos eles têm esta matriz comum, no caso do BES um bocadinho diferente, mas também havia essa conglomerado informal BES/PT…
Por um lado, por força dos resultados negativos que todos estes casos produziram, também por força da regulamentação bancária e da própria evolução do tipo de supervisão e até a supranacionalidade da supervisão, não vejo que se mantenha esse clima. Mas ainda se mantém alguma presença excessiva do Estado nalguns setores com alguma justificação difícil. Se formos ver aqueles indicadores da OCDE, de mercados e produtos, um dos indicadores em que Portugal é mais mal classificado é na racionalidade das participações do Estado na economia. Devo dizer que, para mim, foi uma surpresa que, no caso da Inapa, a Parpública já estava quase com metade do capital. Temos algum algum caminho a fazer neste desligar do Estado, há também muitos fundos públicos ainda a apoiar a economia e as empresas. E tudo isso leva a uma intersecção excessiva entre o poder político, os governos e a economia. E tudo isto é agravado pela ausência de uma reforma da administração pública. Não temos uma administração pública que seja capaz de executar bem as leis sem necessidade, digamos, de interferência dos políticos, o que acaba por ser muito negativa para os políticos, veja-se estes processos de investimento que motivaram problemas na justiça. Há duas formas de resolver. Primeiro, é ter leis que sejam simples, claras e que não tenham exigências maiores do que aquelas que são absolutamente indispensáveis, estritamente indispensáveis. E, segundo, ter uma administração pública que seja capaz de as executar, de executar… Quando estive no Governo, não me lembro de discutir investimentos com os investidores privados, acho que não compete aos governantes fazer isso.
Têm instituições para isso.
Aliás, quando fui ministro e se criou a Agência Portuguesa para o Investimento, estava lá claro que todas as interações com os criadores eram da responsabilidade do presidente da agência, na altura o Dr. Miguel Cadilhe. Era à API e em particular ao seu presidente que competia desembaraçar os processos, caso houvesse embaraços, ou agilizar e articular os organismos da administração pública sempre que isso fosse necessário.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.



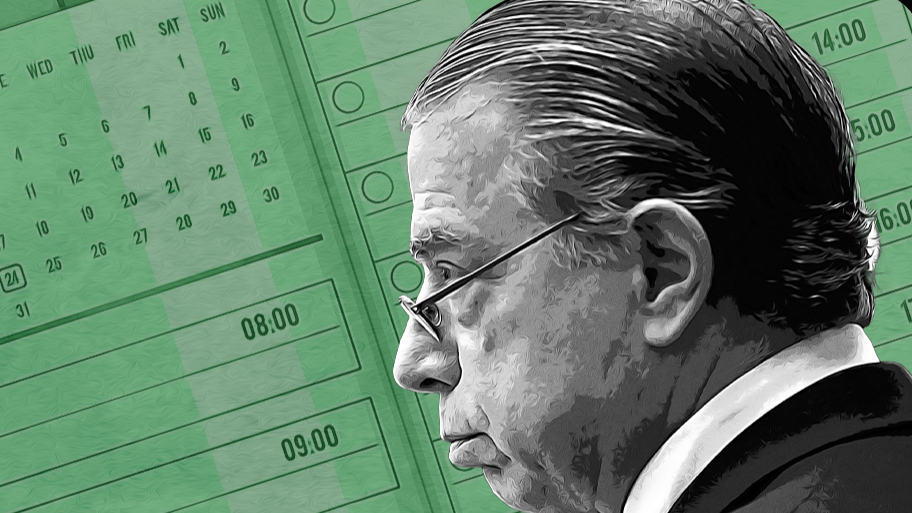
Comentários ({{ total }})
“A CMVM não poderia ter feito nada no caso BES”
{{ noCommentsLabel }}