O processo de vacinação contra a Covid-19 em países como Israel e o caso de Manaus permitem tirar algumas lições e abrem também novas dúvidas. Leia o Novo Normal desta semana.
Ainda o mundo está muito longe de conseguir imunizar a população com as vacinas que existem contra a covid-19, e já as certezas que temos sobre imunidade de grupo e a eficácia dessas vacinas estão postas em causa pelas novas variantes e pelo bizarro caso de Manaus, que desafia muito do que julgamos saber. Em compensação, o exemplar processo de vacinação de Israel permite aprender algumas lições preciosas.
- Assine aqui a newsletter Novo Normal, que é enviado para o seu email todos os sábados.
Em Portugal, e em boa parte da Europa, todas as atenções se focam nos perigos acrescidos da variante inglesa, que está a tornar-se dominante e fez voltar a disparar os contágios. Os primeiros dados de um estudo do Instituto Ricardo Jorge a que o Expresso teve acesso, revelam que a variante inglesa já representa mais de um terço das novas infeções registadas (35%), mas na região com a situação mais preocupante do país, Lisboa e Vale do Tejo, a prevalência estará nos 61%. Essa será uma das razões porque nesta região tem sido mais difícil achatar a curva apesar do confinamento, pois a B.1.1.7 é mais contagiosa do que a estirpe dominante no primeiro ano da pandemia.
Vários países onde a estirpe inglesa atacou forte na viragem do ano tiveram um pico de incidência só controlado por força de lockdown, como se vê abaixo, na evolução do Reino Unido, Irlanda, Israel e Portugal.

Em dezembro, o COG-UK, consórcio criado pelas autoridades britânicas para fazer o sequenciamento do genoma do vírus, já tinha identificado cerca de 4 mil mutações do novo coronavírus. Boa parte delas não só não torna o vírus mais perigoso como acabam por o enfraquecer. As atenções estão focadas em três variantes preocupantes – as que foram identificadas primeiro no Reino Unido (B.1.1.7), na África do Sul (B.1.351) e no Brasil (P.1).
O quadro abaixo resume o estado da arte em relação às três variantes preocupantes: cada uma tem cerca de vinte mutações combinadas, das quais cerca de metade se concentram na proteína espícula – spike, a parte por onde o vírus se “agarra” às células humanas e entra nelas -, o que aumenta a sua capacidade contágio. Esse aumento da transmissibilidade está quantificado na variante inglesa em mais 50%, e supõe-se que seja semelhante nas outras duas variantes.

Ainda não há conclusões sobre se estas variantes provocam doença mais grave e maior mortalidade, apesar das suspeitas de que poderá ser assim. Mas há outra suspeita que começa a tornar-se uma certeza: sobre a capacidade destas variantes resistirem mais às vacinas já existentes, ou esconderem-se melhor dos anticorpos gerados pelo corpo humano. E essas são causas suficientes para alarme.
As três variantes têm em comum a mutação N501Y (conhecida pelo cognome Nelly), que facilita a ligação do vírus às células humanas, abrindo-lhe a porta do hospedeiro – por isso todas são mais infeciosas. O facto de variantes que surgiram de forma independente terem uma mesma mutação faz supor que se trate de uma tendência evolutiva do vírus. “Não é surpreendente que vírus em diferentes partes do mundo encontrem a mesma forma de fazer o mesmo, chama-se evolução convergente”, explica uma cientista britânica neste artigo. Porém, a forma mais comum de evolução é a mutação acidental, em resultado de um acaso, como são quase todas (este é um texto simples de entender sobre esses acasos que determinam as mutações virais).
Porém, tanto a variante sul-africana como a brasileira combinam a N501Y com outra mutação que se está a tornar uma enorme dor de cabeça para combater o vírus: a E484K (com o petit nom Erik), que permite ao SARS-Cov2 esconder-se dos anticorpos neutralizantes. Ou seja, com esta mutação, os anticorpos têm mais dificuldade em reconhecer o vírus que devem eliminar (se for assinante do Observador pode ler este texto sobre o Erik e a Nelly).
A combinação destas duas mutações pode mudar tudo sobre o futuro do combate ao vírus, até porque as três variantes parecem diminuir a eficácia da proteção conferida pelas vacinas existentes. Este trabalho da BBC é um excelente guia sobre as principais variantes e mutações.
Das três variantes preocupantes, a mais disseminada pelo mundo é, de longe, a inglesa (identificada em 73 países), enquanto a variante brasileira só foi detetada em nove países. Mas é esta que mais questões está a levantar na comunidade científica – por causa do que está a acontecer numa cidade em particular: Manaus, o “berço” da P.1.
O pesadelo de Manaus
Manaus, cidade com 2 milhões de habitantes e a capital do estado brasileiro do Amazonas, foi um dos epicentros da primeira vaga da pandemia no Brasil, em abril. A disseminação do vírus foi tal que os cientistas apostaram que boa parte da população de Manaus teria tido contacto com ele – muitos adoeceram, mas muitos ter-se-iam mantido assintomáticos. As análises laboratoriais acabaram por confirmar isso mesmo. Segundo um artigo científico publicado há três semanas na revista Science, em abril 4,8% da população de Manaus tinha anticorpos para a SARS-Cov2; em junho, esse valor tinha disparado para 52,5%. Com base nesses dados, os cientistas calcularam que em novembro cerca de 76% da população de Manaus teria anticorpos para a covid-19. A ser assim, seria um caso de imunidade de grupo, cujo limiar é atingido quando entre 66% e 70% da população tem anticorpos.
A teoria desabou em janeiro, quando um novo surto de covid varreu Manaus, fazendo colapsar o sistema de saúde. Se dois terços da população tinham anticorpos; se Manaus tinha imunidade de grupo, como era possível um novo surto desta dimensão? O facto do novo surto se dever essencialmente à nova variante P.1 será a explicação para a nova calamidade que atingiu o estado do Amazonas?

Um artigo publicado entretanto na Lancet, pela mesma equipa internacional de investigadores que havia calculado a imunidade de grupo (liderada por Ester Sabino, investigadora no Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) tenta responder a essa questão, e coloca quatro hipóteses. Mais: as quatro explicações, avisam os autores, não são mutuamente exclusivas – pode ter acontecido tudo em simultâneo:
- A primeira hipótese é evidente: a população com anticorpos pode ter sido sobreavaliada. Outros investigadores já tinham alertado para essa possibilidade. A ser assim, a suposta imunidade de grupo nunca existiu. A equipa de Ester Sabino admite que os 76% possam ter sido excessivos, mas vinca um ponto importante: ainda que a população com anticorpos fosse menor, ainda que apenas tenha estado exposta à infeção 52,5% da população, como indicavam os estudos serológicos de junho, esse valor devia ter servido como travão à propagação desenfreada do vírus em janeiro. Porém, isso não aconteceu.
- A imunidade pode ter decaído com o passar dos meses, sendo muito pouca no final de dezembro, quando começou a nova vaga. Isso explicaria que Manaus tenha conseguido retomar a normalidade durante algum tempo, mas esteja agora a ser outra vez fustigada. Boa parte da primeira exposição ao vírus terá acontecido em abril e maio, mais de seis meses antes da segunda vaga. Ainda não passou tempo suficiente para se saber qual a duração da proteção contra o vírus, nem nos casos de doença, nem nos casos de vacinação. Há, porém, alguns pressupostos, que estão por demonstrar:- os cientistas admitem que a imunidade natural (de quem esteve doente ou exposto ao vírus) pode ser menos duradoura do que a imunidade adquirida por via das vacinas.– um estudo inglês sobre profissionais de saúde indica que é muito rara a reinfeção nos primeiros seis meses após uma primeira infeção. E depois de seis meses? A julgar por Manaus, a resposta pode ser decepcionante.
- As diferentes linhagens da SARS-Cov2 podem escapar à imunidade gerada por infeções anteriores, de outras estirpes. Este é o cenário mais temível de todos: que os anticorpos (naturais ou provocados por vacinas) contra uma estirpe não impeçam a infeção por uma variante diferente. É uma das hipóteses mais fortes para explicar o inferno de Manaus: a variante P.1, com a sua combinação mutações na proteína espícula, e com as mutações que lhe permitem esconder-se dos anticorpos, pode estar a reinfetar quem já tinha estado exposto à variante original. Já há dois casos confirmados de reinfeção de pessoas que tinham estado comprovadamente doentes na primeira onda.
- A última hipótese está relacionada com a anterior: as novas variantes podem ter maior transmissibilidade – é assim com as variantes inglesa e sul-africana, que partilham várias mutações com a variante brasileira, e sabe-se que foi a P.1 que alavancou o atual surto. Num conjunto de casos analisados em dezembro em Manaus, esta variante era responsável por 42% das infeções; entre março e novembro, a P.1 não foi detetada uma única vez. E as novas variantes podem escapar melhor aos anticorpos. Daí o aviso dos investigadores: “se o ressurgimento de casos em Manaus se deve à diminuição da imunidade, então é de esperar cenários semelhantes noutros locais.”
Manaus pode ser o primeiro vislumbre em grande escala de um cenário de terror que muitos especialistas temem:
- variantes capazes de provocar reinfeções (porque os anticorpos não reconhecem a ameaça colocada por estirpes que não conhecem);
- declínio rápido da proteção imunitária garantida pela exposição ao vírus;
- reinfeções com doença grave (e mesmo morte), e não apenas com sintomas ligeiros.
Isto significa que quem já esteve infetado não pode ser dispensado de vacinação – as vítimas de covid na primeira vaga provavelmente já não estão protegidas neste momento, sobretudo em relação às mutações. A boa notícia é que um estudo divulgado esta semana indica que quem já teve anticorpos pode só precisar de uma dose para reativar as defesas (mas ainda é cedo para decretar regras gerais). O que parece evidente é que as vacinas terão de ser adaptadas para responder às novas características do vírus. O que significa, por fim, que pessoas vacinadas contra a estirpe de Wuhan podem precisar de ser vacinadas contra novas estirpes.
Com outra certeza: quanto mais gente é infetada, mais mutações aparecem – e maiores são as probabilidades de novas variantes mais perigosas, que combinem mutações agressivas. Será um jogo do gato e do rato. E um pesadelo logístico.
Israel, o país-propaganda
Se as notícias oriundas de Manaus são preocupantes, as que chegam de Israel apontam um caminho. O país, já se sabe, é o mais avançado do mundo no esforço de vacinação, e há lições a retirar do seu caso. Tanto sobre como organizar uma operação desta envergadura, como sobre negociação com as farmacêuticas, e impacto da inoculação na evolução da pandemia. Vamos por partes.
Mais de 22% da população de Israel já recebeu as duas doses da vacina contra a covid, o que é, de longe, a maior taxa de cobertura do mundo (o segundo melhor desempenho neste indicador é dos Emiratos Árabes Unidos, onde “apenas” 2,5% da população recebeu duas doses – as aspas têm em conta que na UE só 0,8% da população recebeu as duas doses, a mesma taxa que em Portugal).

Olhando para a população que já recebeu pelo menos uma dose, a cifra israelita fica nos 39%. Em Israel já foram administrados 5,2 milhões de doses, numa população de 9 milhões, o que dá uma média de 60 doses por cada 100 pessoas.

Tudo isto em pouco mais de seis semanas (a vacinação começou a 20 de dezembro). Mais oito semanas (ou seja, até ao fim de março), e Israel conta ter 95% da sua população vacinada. Calcula-se que neste momento 80% dos israelitas dos grupos de risco estejam imunizados (a inoculação começou pelos mais idosos e doentes).
Qual o segredo? A história nem começou de forma promissora – Israel atrasou-se na corrida, fazendo a sua principal encomenda (à Pfizer) depois dos EUA, do Reino Unido, do Canadá e do Japão. Entretanto, reservou junto da Pfizer, da Moderna e da AstraZeneca muito mais vacinas do que as que precisará – tem encomendas suficientes para 12 milhões de pessoas.
Na competição com países maiores e mais ricos, jogou algumas cartadas que fizeram a diferença. Desde logo, o empenhamento político. Segundo o Financial Times, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu (que tem eleições em março, e precisa muito de uma vacinação bem-sucedida como trunfo político) e o ministro da Saúde tiveram nada menos que dezassete conversas com o presidente-executivo da Pfizer, para o convencer a dar prioridade ao estado hebraico.
Em troca, Netanyahu prometeu dinheiro, partilha de dados e uma logística exemplar, capaz de vacinar todo um país em tempo recorde. Foi convincente.
O dinheiro: Israel pagou valores mais altos por dose do que outros países, para assegurar que a sua encomenda, apesar de ser relativamente pequena, recebia mais atenção. No caso da vacina da Pfizer, o governo israelita terá pago quase 50 dólares por pessoa (duas doses).
Segundo uma notícia do Times of Israel, confirmada com pequenas diferenças por vários órgãos de comunicação social, o governo israelita pagou 23,50 dólares por dose da Pfizer, mais do que o preço máximo de comercialização previsto pela companhia (que varia, em diversas partes do mundo, entre um mínimo de 10,65 dólares e um máximo de 21 dólares). O valor pago por Israel fica bem acima do que foi negociado pelos EUA (19,50 dólares por dose) e muito acima do que a UE vai pagar (14,76 dólares por dose, segundo o Washington Post). A negociação até à última dos preços das vacinas por parte da UE tem sido apontada como uma das razões por que os 27 estão a receber as encomendas a conta-gotas.
No total, Israel vai pagar 315 milhões de dólares só à Pfizer e à Moderna. É muito? É o “preço de mercado”, responde o ministro da Saúde. E é tudo relativo: o país está outra vez em rigoroso confinamento nacional (o terceiro), que começou no final do ano e foi prolongado até à semana que vem. Pelas contas da imprensa local, o custo das vacinas equivale às perdas da economia israelita a cada dois dias de lockdown.
Saúde high-tech e militares na logística
Mas não foi só pelo preço que Israel convenceu a Pfizer. Prometeu uma operação logística nunca vista, para fazer de Israel um exemplo para o mundo, e um caso de sucesso para a Pfizer. “A empresa poderá gabar-se disso, lucrar com isso e fazer publicidade [com o sucesso de Israel]”, resumiu o ministro da Saúde, Yudi Edelstein. “Sem isto, nem perderiam tempo a olhar para nós”.
A operação logística foi articulada entre as autoridades de saúde e os militares, cuja fama logística costuma estar associada aos proveitos. Israel é um país pequeno (cerca de um quarto da área de Portugal), com boas infraestruturas, o que permitiu que as vacinas chegassem depressa e sem dificuldade a todo o território. Tem um bom sistema de saúde pública, altamente informatizado – ou não se tratasse de um dos países modelo das start-ups tecnológicas.
As bases de dados de saúde são consideradas exemplares, completamente digitalizadas, com décadas de informação e grande facilidade de cruzamento e partilha. Isso permitiu identificar rapidamente que cidadãos deviam ser vacinados em cada fase, e contactá-los através de apps ou mensagens de texto.
Por outro lado, o governo optou por separar a vacinação do restante funcionamento do sistema de saúde: para proteger clínicas, hospitais e centros de saúde de ainda mais procura, a vacinação é feita em locais específicos, desde pavilhões desportivos a tendas. Também foram montados locais para vacinação drive-in e criadas unidades móveis para chegar a povoações mais pequenas ou reforçar a oferta em locais pontualmente críticos. Dos cerca de 300 pontos de vacinação espalhados pelo país, numa centena foram colocados 700 médicos militares reservistas.
Nos picos mais produtivos foram inoculadas mais de 230 mil pessoas por dia. Na média ponderada a sete dias, mesmo nos dias mais fracos são administradas acima de 60 mil doses. Note-se que 50 mil a 60 mil doses por dia deverá ser o ritmo de Portugal para cumprir o objetivo europeu de ter 70% dos adultos vacinados até ao fim do verão – atualmente, devido à escassez de doses, o nosso país, com a mesma população, está a vacinar 10 mil pessoas por dia.

A campanha de vacinação israelita começou pelos profissionais de saúde e pelos cidadãos mais velhos e com doenças que constituem fatores acrescidos de risco. O facto de se tratar de um país com uma população bastante jovem ajudou a cumprir a primeira etapa com rapidez. Depois, a prioridade foi descendo progressivamente nos escalões etários. Nesta altura está a ser vacinado quem tem mais de 35 anos e os jovens entre os 16 e os 18 anos, que o executivo quer inocular antes dos exames nacionais que precedem as matrículas nos liceus.
Quem já recebeu as duas doses recebe um “passaporte imunitário” que lhe permite acesso sem restrições a espetáculos, restaurantes e outros espaços públicos, bem como a possibilidade de viajar para fora do país sem ter de cumprir quarentena no regresso.
Dados serão a nova moeda de troca?
Para além lucro acrescido e de um anúncio global pronto a usar, a Pfizer recebe de Israel informação. Na economia do século XXI, pode valer mais do que dinheiro. O governo comprometeu-se a partilhar informação em tempo real com o gigante americano sobre o andamento da vacinação, eventuais reações adversas e efeitos da inoculação.
No fundo, Israel ofereceu os seus cidadãos para serem cobaias involuntárias da Pfizer na última fase dos ensaios – aquela que acontece no mundo real, fora do laboratório, e implica monitorizar a vacinação em larga escala nos vários grupos demográficos. As vantagens para os dois lados são evidentes: o país tem recebido, sem sobressaltos nem imprevistos, entre 400 mil e 700 mil doses por semana; a farmacêutica faz um teste em grande escala da imunidade de grupo.
Benjamin Netanyahu assumiu, no final de janeiro, que o seu país será isso mesmo: “um laboratório global para a imunidade de grupo” e o regresso à vida com alguma normalidade.
Os termos em que o governo partilha a informação com a Pfizer têm levantado preocupações relacionadas com privacidade de dados pessoais. O executivo garante que só são partilhados grandes dados epidemiológicos, anonimizados. Apesar das garantias, um especialista consultado pela Bloomberg ironiza, dizendo que o acordo (que foi divulgado numa versão censurada) é “claro como a lama”.
As perguntas por responder sobre que informação é partilhada e quais as garantias sobre a sua proteção juntam-se a outras preocupações, num momento em que a Pfizer admite fazer acordos semelhantes noutros países – e se a partilha de uma imensidão de dados individuais passar a ser a moeda de troca para as farmacêuticas acelerarem a entrega de encomendas?
O que dizem os dados de Israel? Que “a magia começou”
Há informações muito relevantes com base na população de Israel já vacinada – o que vai permitir afinar procedimentos noutros países. As notícias são quase todas boas ou até melhores do que o esperado. “Com cautela, dizemos: a magia começou“, nas palavras de um investigador israelita citado neste artigo de ontem do New York Times, com algumas das conclusões mais recentes oriundas de Israel. Faço um resumo da última semana:
- A primeira conclusão aponta para uma enorme quebra de infeções e internamentos junto da população vacinada. Os primeiros dados divulgados dizem que num universo de mais de 715 mil pessoas, só 317 foram infetadas na semana após a toma da segunda dose. Ou seja, 0,04%. Dos indivíduos infetados, só 16 tiveram de receber tratamento hospitalar: 0.002% dos vacinados.
- Outro estudo indicia que a imunidade alcançada após a segunda dose da Pfizer pode até ser maior do que os 95% estimados nos ensaios laboratoriais. Um estudo do Sheba Medical Center, de Telavive, indica 98% de eficácia num grupo de 102 profissionais de saúde que receberam as duas doses, e sugere que é “improvável” que quem recebe a segunda dose seja portador do vírus.
- Outro trabalho de campo, focado em pessoas com mais de 60 anos, dá resultados concretos sobre o impacto nos mais idosos: o número de infeções caiu 41% neste faixa etária, as hospitalizações reduziram-se 31%, e o número dos que ficaram gravemente doentes encolheu 24%.
- Pelo contrário, a eficácia de apenas uma dose pode ser inferior à que foi estimada nos testes laboratoriais. Com base na vacinação de cerca de 200 mil idosos, a proteção para quem recebe apenas a primeira dose será de cerca de 33%. Isto são más notícias para os países que decidiram fazer render a primeira dose, administrando-a a mais pessoas, e adiando a segunda toma para além dos 21 dias recomendados pelo fabricante.
Estas conclusões sobre o efeito da primeira dose são menos otimistas do que outro estudo, feito na Catalunha, também com idosos. Esse, indiciava que a primeira dose evitava mais de metade dos contágios, dados que estavam em linha com as estimativas da própria Pfizer e da agência norte-americana FDA.
“Not so fast”, avisam agora os investigadores israelitas. Graças a estes dados, o Canadá decidiu rever a decisão de alargar o intervalo entre as duas doses, como pode ler aqui. Note-se que Israel está a cumprir (como Portugal) o intervalo de três semanas entre cada toma, pelo que não dá para monitorizar o efeito mais prolongado de apenas uma dose. Mas o controlo feito à administração em larga escala da primeira dose, e verificando a quantidade de idosos que, nesses 21 dias, foram infetados, permitiu verificar uma imunidade após a primeira toma bastante menor do que que se supunha existir.
Não é que a primeira dose não faça desencadear a produção de anticorpos – sim, ao fim de dez dias isso acontece mesmo, como também demonstra o trabalho que está a ser conduzido no Instituto Gulbenkian de Ciência, e noticiado pelo Expresso: nove em cada dez pessoas ganha anticorpos com a primeira dose, e “alguma imunidade”. A questão é quanta – se for menor do que se julgava, isso desaconselha o aumento do intervalo entre as duas tomas.
Os países que arriscaram afastar as duas doses – e em particular o Reino Unido, que alargou esse prazo de três semanas para doze – podem estar a correr ainda mais riscos do que se julgava. Um desses riscos pode ter consequências sérias: dar tempo ao vírus para ganhar resistência ou fintar melhor essas defesas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.



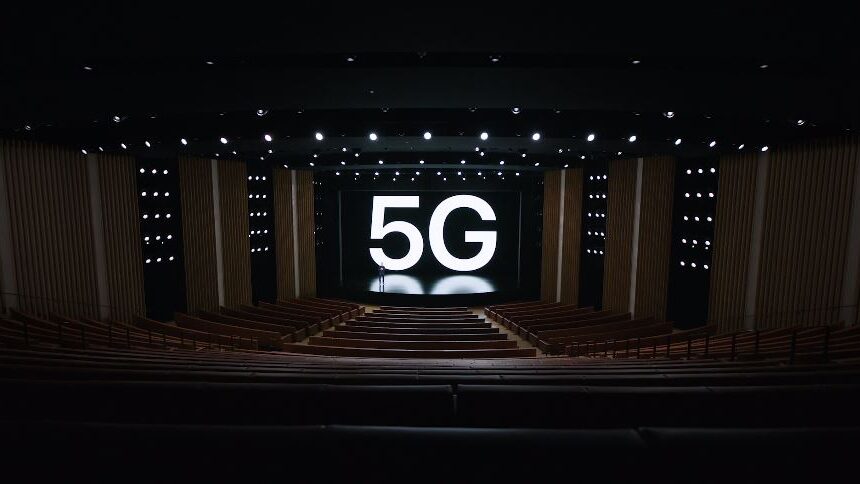
Comentários ({{ total }})
Covid: Segredos de um sucesso e incertezas de um desastre
{{ noCommentsLabel }}