A Accenture revelou cinco tendências a que as empresas devem estar atentas este ano. Pedro Lopes, managing director da Accenture responsável pela área de Technology, antecipa essas tendências.
Perceber as tendências é uma forma de as empresas se prepararem para o futuro. quais as principais? Num relatório detalhado, a Accenture revelou quais as cinco que mais deverão marcar as empresas e a sociedade em 2018.
Em entrevista ao ECO, Pedro Lopes, managing director da Accenture responsável pela área de Technology em Portugal, explica o que significam e como se materializam, mas também como já não somos nós que nos temos de adaptar à tecnologia: é a tecnologia que tem de se adaptar a nós.

Do ponto de vista geral, a tecnologia tem evoluído tremendamente nos últimos anos, em particular na última década. Passou a estar, hoje em dia, presente nas nossas vidas: em tudo aquilo que fazemos, desde que acordamos até que vamos dormir. Três em cada quatro pessoas, a primeira coisa que fazem é pegar no telemóvel quando acordam e a última coisa que fazem antes de ir dormir também é isso. Vamos assistir a um incremento ainda maior dessa presença da tecnologia nas nossas vidas, quase que de uma forma transparente. Enquanto que, no passado, éramos nós que nos tínhamos de adaptar à tecnologia, hoje em dia é a tecnologia que se terá de adaptar a nós, aos nossos comportamentos, hábitos e padrões de consumo, de uma forma transparente. Não vamos ser nós a procurar a tecnologia. Ela vem ter até nós de uma forma natural. É o caso da linguagem natural: cada vez mais é uma forma de interagir com a tecnologia. Desse ponto de vista, a tecnologia está a transformar a sociedade e o modo como nós vivemos e trabalhamos.
Dentro desse aspeto, o que é que o relatório traz de novo?O que este relatório vem salientar é que o facto de essa tecnologia estar tão presente, e darmos a possibilidade às empresas de estarem tanto nas nossas vidas com os seus produtos e serviços, faz com que tenha de existir uma relação de confiança que é muito mais para lá da transação que as empresas estão habituadas a fazer. Um bom exemplo é o caso da Amazon. Começou por vender livros na internet. Depois colocaram um motor de recomendações, há dez anos, em que nos passou a recomendar produtos que nós nem sabíamos que existiam. Que nem sabíamos que estávamos interessados neles. Passou a conhecer-nos de uma melhor maneira. Depois lançou a Amazon Prime, que tornou a compra praticamente omnipresente, em qualquer hora e em qualquer lugar. Mais recentemente, lançou a Alexa, o Amazon Echo, que faz com que a Amazon esteja presente nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso quarto, a ouvir as nossas conversas, à distância de uma palavra e com a qual interagimos de uma forma completamente natural. Isso obriga a uma relação de confiança com a marca, ao ponto de lançarem agora o Amazon Key, que é basicamente uma fechadura lá para casa em que a pessoa que faz as entregas pode entrar fisicamente na nossa casa.
Como é que balanceamos essa questão da privacidade com a evolução tecnológica? Parece que estamos a dar a nossa privacidade de mão beijada...E estamos. Acho que, no final do dia, se resume tudo a uma palavra: conveniência. Se o valor acrescentado que as empresas conseguem tirar dessa informação que nós damos se tornar evidente para as pessoas, as pessoas vão dar os seus dados de uma forma natural. Isto é aquilo em que eu acredito. Imagine que vou a descer no elevador e a Google avisa-me que eu tenho uma reunião daqui a 20 minutos e que o melhor caminho é este, que demora 17, e que eu estou atrasado. Essa informação eu não pedi à Google, foi-me dada de forma espontânea, mas eu estou disposto a dá-la. Estou disposto a dá-la porque tenho algo em troca, algo que perceciono como valor. Desse ponto de vista, a conveniência é aqui a palavra-chave. Se as pessoas obtiverem um valor pela informação e pelos dados que dão, tenho a certeza que não há questões.
Há uma maior complexidade de interação entre aquelas que vocês apontam como tendências. O nível de relação de complexidade aumenta exponencialmente de ano para ano. Outro aspeto é que parece que, neste relatório, a questão da confiança e da informação verdadeira é muito central em todas elas. O que este relatório nos mostra são essas dimensões? Complexidade e confiança/credibilidade?Eu diria que sim. Os relatórios anteriores estavam mais focados naquilo que é a tecnologia pela tecnologia. Este relatório está mais focado quase que nas consequências e efeitos naturais que este tipo de tecnologia e implementação dela por parte das empresas pode trazer à sociedade como um todo. Voltamos à questão da transformação da relação que as empresas têm de ter com os seus clientes, colaboradores, parceiros, governos. De facto, têm de mudar radicalmente no sentido de criar esta dita relação de confiança para que permita que outros players aceitem a sua presença na sua vida. E isto quase que implica a criação de um “pacto social”. A L’Oreal, por exemplo, é uma empresa que decidiu dar a conhecer quais são os seus princípios éticos e garantir que, no seu ecossistema em que trabalha, esses princípios são seguidos. E isto é uma imagem fortíssima para o mercado, uma vez que, neste tal estabelecimento de uma relação de confiança com as pessoas, é fundamental saberem com que regras joga quem nos está a fornecer um serviço.

Se a tecnologia vem ter connosco é porque algumas empresas disponibilizaram a tecnologia. Mas o modo como usam essa tecnologia é que tem de ser transparente para as pessoas. Por exemplo: um motor de inteligência artificial que esteja a decidir se uma pessoa tem crédito à habitação ou não. As regras que esse motor vai usar têm de ser claras quando alguém recebe uma resposta a dizer que o crédito foi aprovado ou não foi aprovado. Hoje em dia, uma das dificuldades que as empresas que usam este tipo de tecnologia têm é que por vezes é complicado perceber-se que regras é que foram utilizadas. Como é que aquele algoritmo aprendeu daquela forma e chegou àquelas conclusões. E isso nem sempre é evidente. A inteligência artificial é um tipo de tecnologia muito diferente daquilo a que estamos habituados. É uma tecnologia que aprende por si só, é capaz de tomar decisões de forma completamente independente e consegue evoluir sem intervenção humana.
É um bom ponto. Porque se damos à tecnologia a capacidade de tomar decisões, se a máquina erra, a quem é que vamos atribuir responsabilidade?É outra das coisas que as empresas têm de definir. O caso da Audi é um dos exemplos citados no estudo. Está a trabalhar no sentido de definir de quem é a responsabilidade no caso dos acidentes até uma determinada velocidade. É um bom exemplo de que uma empresa se está a posicionar e a definir claramente as regras que a tecnologia que disponibiliza irá utilizar. Isso tem de ser claro para as pessoas e para o consumidor final.
A transformação digital, hoje, está a depender mais de valores do que propriamente da tecnologia. Parece que, ao relevar a dimensão ética e os valores em relação à tecnologia, dá a ideia de que a tecnologia está a evoluir mas já não é o mais importante da transformação digital, mas as pessoas e a forma como essa tecnologia as obriga a relacionar. É um paradoxo: a transformação digital é menos dependente da tecnologia e mais dependente das pessoas e dos princípios.No passado, éramos nós que nos tínhamos de adaptar à tecnologia, hoje em dia é a tecnologia que se terá de adaptar a nós.
Qualquer organização tem de olhar para a tecnologia como um enabler. Apenas isso. Até porque muita desta tecnologia é relativamente barata e acessível e daí o facto de estar tão democratizada por todo o lado. A grande transformação de facto é o impacto que este tipo de tecnologia tem nas pessoas. Seja no modo como vivem, seja no modo como trabalham e como é que a interação entre a tecnologia e as pessoas é gerida (que também não é algo fácil). Iremos assistir, no futuro e cada vez mais, a uma transformação no modo como as organizações olham para a tecnologia não tanto do ponto de vista tecnológico mas dos impactos que tem na própria organização.
O relatório é internacional. Mas pode fazer uma avaliação do estado da arte das empresas portuguesas nessa dimensão? Da sua experiência no mercado português, como avalia essa transformação?Em Portugal, nós vivemos a duas velocidades. Uma velocidade que é aquela que todos nós gostamos, a velocidade da inovação, das startups, do ecossistema de players globais que vêm para cá. De facto, existe nesta altura um ambiente muito propício ao desenvolvimento da inovação e da tecnologia. Mas temos uma outra realidade, quase das empresas “incumbentes”, que de alguma forma, fruto daquela que tem sido a nossa realidade económica dos últimos anos, com um foco muito maior na redução de custos, face a outros mercados, nota-se algum atraso. Em particular, se tivermos a comparar com o mercado norte-americano, que já tem outro nível de evolução face ao europeu — está substancialmente mais à frente. Dito isto, está a despertar um novo interesse e uma grande ansiedade no sentido de transformar o modo como as empresas hoje trabalham, e como se relacionam e se posicionam no mercado, em Portugal. É fruto de alguma concorrência que se começa a sentir em Portugal. Nós até aqui, diria que temos estado fechados no nosso casulo, de alguma forma. Temos uma massa crítica relativamente pouco atrativa para os grandes players e, portanto, nesta altura, isso também está a mudar um pouco. É um fator motivacional para as nossas empresas darem um passo em frente e começarem a investir em inovação.
A dimensão é sobretudo financeira? Ou seja, não fazem esse avanço porque ainda estão nos processos de reestruturação que decorrem do contexto económico que o país viveu, ou é mesmo cultural -- isto é, ainda não chegámos lá?Acho que são os dois fatores. Por um lado, o foco tem sido a questão da eficiência e, por outro lado, do ponto de vista cultural, enquanto não vier a pressão, nós não nos mexemos. Desse ponto de vista, temos estado um bocadinho parados face ao que são outros mercados e realidades. Basta olhar para os EUA e ver 20 minutos de televisão: pela publicidade que aparece, comparada com a publicidade que temos em Portugal, vemos que são realidades completamente distintas. É outro patamar.

Eu vejo isso como uma vantagem para as startups portuguesas. Porque, assim que nascem, a ambição delas nunca é o mercado nacional, porque não temos escala. E isso coloca logo o patamar num nível de ambição. Por exemplo, se formos a Espanha, as startups espanholas, quando começam, estão focadas no mercado nacional. Em Portugal não. As startups cá, quando nascem, já é a pensar em grande. E isso é uma grande vantagem, do meu ponto de vista. Aquilo que aparentemente poderia ser uma desvantagem é um fator a capitalizar por este ecossistema que se está a criar. Sendo que, obviamente, o grande mercado é o mercado dos EUA. Não haja dúvidas. Até ao nível de produtos e serviços, está quase tudo a nascer lá?
É possível importar alguns desses modelos para mercados como o português? Que exemplos e que práticas podem ser importadas para o mercado português, para a nossa realidade, para as nossas empresas?É isso que temos feito. Muitos dos projetos que desenvolvemos em Portugal resultam até de experiências nossas que temos noutros mercados, noutros clientes, que trazemos para cá e que são perfeitamente aplicáveis. A escala é diferente, é verdade. As dimensões de investimento são diferentes, também. Agora, é perfeitamente aplicável. O nosso mercado tem uma apetência muito grande para consumo de serviços tecnológicos e serviços altamente sofisticados. Até é interessante para testar determinados conceitos, produtos e serviços. Há uma grande apetência das pessoas para adotarem este tipo de ofertas, daí que seja perfeitamente aplicável. Dito isto, acho que do ponto de vista de empresas, mesmo empresas portuguesas, deveria começar a pensar para lá das nossas fronteiras. Hoje em dia, o que o digital permite é que pequenos players, com uma infraestrutura relativamente reduzida, consigam ter uma escala mundial. Com poucos investimentos. Portugal tem de olhar para lá do cantinho à beira mar plantado e as empresas que estão cá olharem na perspetiva mais abrangente do mercado, e não tanto estarem focadas neste nosso mercado, que é pequeno.
Há outro tipo de empresas e instituições muito afetadas por esta transformação digital, que pertencem ao setor público. Cá em Portugal fala-se de que o público pode não estar a conseguir acompanhar esta transformação no que toca a empresas públicas e à administração pública?Eu diria que é um pouco semelhante ao das empresas privadas, no sentido em que vivemos alguns de bastante dificuldade e, quer queiramos quer não, a verdade é que ficaram muitos projetos por fazer.
O discurso padrão de todos os Governos é que a transformação digital ficou na última fase, não é? Na última milha, que é a relação do Estado com o contribuinte. O que conta é o que está por trás: se está bem feito, mal feito ou não está feito de todo.Exatamente. Qualquer transformação digital de uma organização tem duas componentes: por um lado, a transformação daquilo que é a relação com os clientes e, neste caso, com os cidadãos. Outra coisa é a transformação dos processos internos e da máquina que está por trás, no core da organização. Desse ponto de vista, a preocupação dos últimos Governos (e não é de estranhar) tem sido muito mais na componente de relação com o cidadão e muito menos na transformação daquilo que são os “processos de negócio”, porque esses sim têm uma panóplia de coisas para fazer. Aí estamos a ficar um pouco para trás, no sentido em que noutros países, como os países nórdicos, há aquela lógica do open government.
É a mesma coisa que transparência?É mais do que isso. É a possibilidade que os Governos estão a dar de criar um conjunto de funções que podem ser internalizadas pelo setor privado. Vamos imaginar que quero pedir um empréstimo à habitação. Vou ter de ir pedir uma série de coisas à parte pública, aos serviços prestados ao cidadão. Por exemplo, porque é que o meu banco não me proporciona toda essa experiência no próprio home banking? Ter interfaces diretos? Toda esta lógica do open government, de criar esta máquina muito mais oleada entre o que é o setor público e o setor privado, essa é a grande tendência a que estamos a assistir. A tendência é aumentar esta ligação entre empresas e o Estado e, de alguma forma, não necessitar de uma transformação tão grande daquilo que é a relação com o cidadão.
Para as empresas privadas, os nórdicos também podem ser um bom exemplo para as empresas portuguesas?O nosso mercado [português] tem uma apetência muito grande para consumo de serviços tecnológicos e serviços altamente sofisticados.
Sem dúvida que sim. Para já, há muito menos diferença cultural e organizacional entre o que é o setor público e o privado. As coisas quase que se misturam, no bom sentido. Portanto, desse ponto de vista, desde sempre houve uma grande ligação entre as duas áreas e uma necessidade e tentativa de as interligar de forma transparente e líquida. Daí esta noção do open government, porque se há coisa que este país necessita claramente é eliminar as burocracias, os processos complexos que temos, em que tudo leva uma eternidade. Qualquer coisa que seja feita para tornar mais eficaz esta ligação entre público e privado, acho que beneficiaria toda a gente, em particular o cidadão que está no final da cadeia.
Os reguladores vão andar sempre a correr atrás da inovação?Diria que é uma tendência que só se pode agravar. A velocidade a que estamos hoje a assistir na evolução tecnológica torna impossível, literalmente, a regulação acompanhar isso. Há uma tendência do ano passado, chamada uncharted markets, que tem a ver precisamente com a necessidade de as empresas autorregularem os seus próprios mercados. Porque, se estão à espera que a regulação aconteça, só vai acontecer à posteriori. Há aqui quase uma responsabilidade social por parte das empresas que estão a construir novos mercados, em que têm de ser elas próprias a autorregular-se e a criar dentro do seu ecossistema de parceiros um conjunto de regras que vão ter de definir. Hoje, o fator preço deixou de ser o fator diferenciador. Hoje em dia, é extremamente valorizado o posicionamento que as marcas têm. Estou a lembrar-me da Apple a recusar-se a dar os dados de um iPhone: mais do que tudo, é uma mensagem ao mercado. “Os vossos dados, os dos nossos clientes, são privados e estão seguros connosco. Nem aqui com o Governo dos EUA a obrigar-nos a dar os dados, de um serial killer, nós não os damos.” Obviamente que isto é questionável.
A Accenture diz no relatório que as parcerias são essenciais e permitem às empresas ganharem alguma vantagem sobre a concorrência. Vemos que alguns setores estão em particular convergência. Esta questão tecnológica também está a acelerar essa convergência?Claramente e penso que essa é uma das limitações que muitas empresas hoje têm, que é: olhar para o mercado numa lógica de silo ou de indústria. “Eu sou um banco. O que faço? Vendo serviços financeiros.” “Eu sou uma telecom. O que faço? Vendo serviços de telecomunicações.” Hoje, as fronteiras entre as indústrias e os setores estão a acabar. Qual é a indústria de uma Amazon? É tudo. E a Google? O que estas empresas fazem é focar-se naquilo que é a cadeia de valor dos seus clientes…
E qual é a da Accenture? Até estão a comprar empresas de advertising...A Accenture hoje em dia é a maior agência digital do mundo. Transformou-se brutalmente nos últimos cinco anos. O tipo de trabalho que fazemos hoje para as empresas é muito diferente do que o que fazíamos há cinco anos. Muito mais abrangente end-to-end. Procuramos olhar para o mercado não numa lógica de silo ou indústria, mas sim “o que é consigo trazer na cadeia de valor do meu cliente?”. É extremamente importante a criação de um ecossistema de parceiros. Enquanto empresa única, dificilmente conseguirei endereçar os vários elos da cadeia de valor. Vemos bancos a emparceirar com fintechs. Vemos operadores de telecomunicações a emparceirar com startups. A abordagem ao mercado tem de ser conjunta, e não uma de “vamos sozinhos à guerra”. Isso já não existe.

As cinco tendências para 2018:
Inteligência artificial: “Vai trazer uma revolução muito grande ao modo como vivemos. Estamos a falar de uma tecnologia diferente das outras, na perspetiva em que consegue tomar decisões e evoluir de forma autónoma. Podemos olhar para ela como se de uma pessoa se tratasse. Tem de ser educada e tem de ser balizada, senão corremos o risco de se perder o controlo.”
Realidade estendida: “Realidade aumentada e realidade virtual já existem há muitos anos, mas têm sido ligadas a aspetos de entretenimento. A tecnologia começa a ser olhada de uma forma séria pelas próprias empresas, seja numa lógica interna de processos de negocio, seja numa lógica externa de transformarem a relação com o cliente final. Permite interligar o mundo real com o mundo físico e eliminar as distâncias. Vamos ter o mundo físico que vai ser complementado pela realidade virtual e as duas cosias vão funcionar em conjunto.”
Veracidade dos dados: “Cada vez mais, as empresas baseiam as suas decisões nos dados que têm. Ora, se os dados não forem os corretos, correm o risco de tomarem as decisões erradas. E cada vez mais isso acontece. Especialmente porque as fontes de informação nem sempre são as mais fidedignas e a imensidão de dados que hoje em dia são recolhidos tornam difícil percecionar o que é real e o que não é real. Há cada vez mais gente a tomar decisões com base em dados. Mas não são só pessoas: são pessoas e máquinas.”
Frictionless business: “O que estamos a dizer é que, neste novo mundo, em que é cada vez mais necessário criar um ecossistema de parceiros, se nós tivermos a necessidade de passar seis meses a implementar os interfaces para nos ligarmos a esses parceiros, isso não vai a lado nenhum. O que essa tendência nos diz é que temos de transformar as arquiteturas das organizações e empresas no sentido de serem o mais conectadas possível. No sentido de criar interfaces automáticos com outros parceiros, criar APIs que sejam standards, no sentido de tornar líquida e fluida essa comunicação.”
Internet of thinking: “Temos andado a falar muito da cloud e, de facto, o nível de adoção de cloud é brutal nesta altura. Dito isto, a sensorização do ambiente físico em que nós estamos, com as câmaras espalhadas por todo o lado, com inteligência artificial um pouco presente, há uma necessidade muito grande de começar a ter processamentos locais e não agregar tudo na cloud. Porque, se pegarmos num veículo autónomo, que recolhe TB de informação por cada hora que passa, não se pode estar à espera de tratar essa informação num centro de dados central para decidir se o carro se desvia de qualquer coisa. O processamento vai ter de se deslocalizar para onde ele é necessário. E não necessariamente de uma forma centralizada numa cloud.”
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.




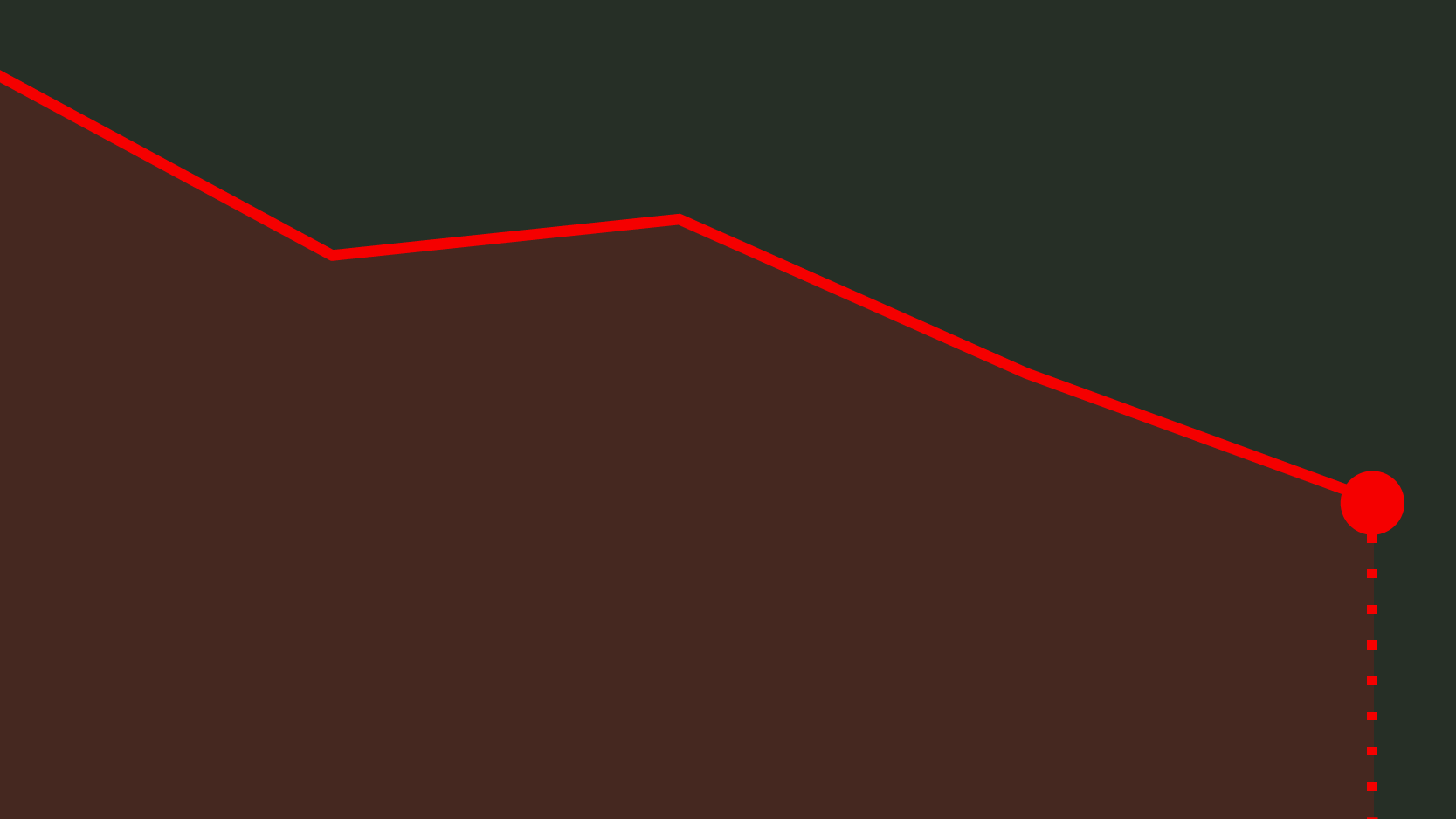
Comentários ({{ total }})
Pedro Lopes, da Accenture: “As fronteiras entre setores estão a acabar. Qual é a indústria da Amazon? É tudo”
{{ noCommentsLabel }}