A 11 de janeiro anunciaram a criação do fundo e a 4 de abril o quarto investimento. Stephan Morais, da Indico, revela objetivos e desafios de gerir o maior fundo de capital de risco privado no país.
Lançado no início deste ano, o fundo de 46 milhões de euros da Indico já anunciou investimento em quatro startups, todas portuguesas. A Barkyn foi a última, esta quinta-feira, depois de fechar uma ronda de financiamento de 1,7 milhões, liderada pela Indico, o maior fundo de capital de risco privado do mercado português.
Depois de deixar a Caixa Capital em julho de 2017, Stephan Morais, 45 anos, passou quase dois a montar a Indico Capital Partners, sociedade gestora do primeiro fundo de capital de risco independente em Portugal, que tem 46 milhões de euros para investir em startups tecnológicas portuguesas e espanholas. Em conversa com o ECO, o investidor falou da evolução do mercado de capital de risco, do talento português e de futuros unicórnios que, espera, não escapem à carteira de investimentos do fundo cuja gestão divide com Cristina Fonseca (cofundadora da Talkdesk) e Ricardo Torgal (ex-Caixa Capital).
Nos últimos dois anos, assistiu-se em Portugal a um decréscimo do investimento tanto por fundos públicos como privados. Isso levou a um abrandamento também do número de empresas?
O ecossistema nesta versão mais moderna existe desde 2011 ou 2012, o que não quer dizer que não existisse empreendedorismo e inovação, e capital de risco, anteriormente. A vaga atual originou estas 10, 12 empresas portuguesas que levantaram capital no estrangeiro, incluindo algumas que chegaram ao estatuto de unicórnio. Mas essa vaga sofreu um abrandamento em termos de disponibilidade de capital – não em termos de número de empresas – há cerca de dois anos e meio. Houve um abrandamento porque deixou de haver operadores ativos no mercado, pelo menos com dimensão. Acho que o número de empresas não abrandou. Tiveram foi menos visibilidade porque o número de operadores de investimento não estavam lá e as empresas não apareciam porque não havia rondas de investimento. Mas a prova de que não houve abrandamento de empresas é que nós, nos últimos 18 meses, vimos 900 empresas. E isso significa que elas já estavam a ser criadas há mais tempo, não foram coisas que começaram antes de nós surgirmos.
"A prova de que não houve abrandamento de empresas é que nós, nos últimos 18 meses, vimos 900 empresas.”
Esse abrandamento de capital está a ser suprido com o nosso aparecimento e com o aparecimento de mais um ou dois fundos que estão aí a acontecer. Tem havido agora um crescendo, mas os números de capital de risco, em geral, em Portugal, são ainda muito pequenos em comparação com a Europa. Não há estatísticas totais mas basta ver que se houve 10, agora 12 empresas que levantaram rondas A e mais para cima, desde cinco milhões até uns biliões da Farfetch, em dez anos, em Portugal, esse é o número de empresas que sai, talvez a cada mês, em Paris. Faz uma Series A. O mercado português é um mercado pequeno mas com qualidade. E não é também tão pequeno que não justifique a existência de um ecossistema profissional.
Qual é a opinião que o mundo tem do mercado em Portugal?
Muitas vezes quando partilhamos os nossos números — esta estatística do número de empresas que vimos e o investimento que fazemos — com operadores internacionais nossos parceiros, eles não estão à espera de haver tantas. Depois quando veem que só houve dez que vingaram e que, dessas dez vão falhar algumas naturalmente, claro que acham pouco. Daí não acharem que se justifica ter uma presença permanente em Portugal — o que é normal, porque não têm em Portugal nem em lado nenhum.
Realmente existe uma pool de talento disponível. E acho também que o efeito demonstrativo dos casos de sucesso — da Talkdesk e das outras — ajuda a que mais pessoas entrem por essa via. Por outro lado, há um amadurecimento muito maior. Cada vez mais os empreendedores começam a ter consciência se a empresa deles deve ser financiada por capital de risco ou se é uma empresa que deve ser rentável desde o dia 1, e produzir cashflow, como 99% das empresas. Esse amadurecimento é positivo porque nem todas as empresas são adequadas para este tipo de financiamento e não vale a pena as pessoas entrarem em sonhos que não têm viabilidade.
Como espera que o mercado evolua nos próximos tempos?
Tudo correndo normalmente, Portugal — e não só Lisboa, de todo — continuará a produzir cada vez maior quantidade e qualidade, em termos de inovação e de empresas tecnológicas. Isto tudo depende dos fatores macro, se houver um downturn, talvez não seja tanto assim mas, também, muitas dessas empresas boas que surgiram e que vingaram surgiram precisamente num momento em que tivemos uma grande crise. Por isso não há sequer uma correlação. É difícil de dizer porque, quando há um downturn ou recessão a nível mundial, o que acontece é que começa a secar a disponibilidade de capital dos investidores nos fundos. E não havendo investidores nos fundos, os fundos abrandam a sua atividade e financiam menos empresas. Aliás, isso já está parcialmente a acontecer e nota-se com especial incidência em Silicon Valley: o número de financiamentos a empresas já está a cair há mais de um ano. Acontece que as empresas que têm financiamento, têm rondas muito maiores. O tamanho médio das rondas é muito maior.
São sinais para as startups portuguesas?
São sinais em duas vertentes: por um lado, a passagem de uma ronda seed para uma Series A é cada vez mais difícil, o escrutínio é cada vez mais alto. E tem ainda outra implicação: apenas os fundos, as entidades financeiras com uma dimensão já significativa conseguem acompanhar e estar presentes nesse jogo, nesse crescimento. Porque se não houver fundos com dimensão de 50, 100 milhões, os fundos abaixo disso não têm capacidade de fazer acompanhamento das empresas. E isso significa que, matematicamente, os resultados vão ser maus. Mesmo que a empresa venha a ser um unicórnio, e o múltiplo teórico venha a ser muito alto, na prática, o retorno absoluto para os investidores dos fundos que não tem essa dimensão crítica mínima dos 50 milhões, começa a ser muito baixo. Os investidores investem uma vez mas depois nunca mais investem porque percebem que esses fundos não têm viabilidade.
Vemos isso em conversa com investidores internacionais que nos dizem, propõem que cheguemos rapidamente acima dos 50 e, um dia, se possível, aos 100 milhões, porque se não for assim também deixará de haver interesse. Isto é um jogo que, cada vez mais, é de grandes números. Tem duas implicações para Portugal: haverá menos empresas a conseguir dar o salto. E as que conseguem e que estão bem capitalizadas e com fundos profissionais por trás, vão ter rondas muito maiores. Mas a vasta maioria não vai conseguir.
E essas morrerão?
E essas morrerão. Das duas uma: ou se tornam cashflow positive, ou ganham dinheiro — mas normalmente não é esse o caminho dessas empresas —, ou têm de encerrar atividade ou mudar significativamente, o que é normal. Ou seja, temos todos de estar preparados para isso. Numa perspetiva de um gestor profissional de fundos, o que tem de se garantir é que existem algumas que compensam todas as outras, dentro dos parâmetros e dos rácios normais. Por isso é que, muitas vezes, nos surpreende quando vemos pessoas nesta atividade que não têm, ou a dimensão ou a experiência, e que acham que fazer venture capital é escolher umas ideias engraçadas e giras, e esquecem-se que esta é uma atividade iminentemente financeira no sentido que há muita técnica financeira por trás de construir um portefólio equilibrado. De todo isto é uma atividade de escolher empresas engraçadas e ideias giras. E quem investe dessa maneira, mais cedo ou mais tarde perde tudo.
Numa perspetiva de um gestor profissional de fundos, o que tem de se garantir é que existem algumas [startups] que compensam todas as outras, dentro dos parâmetros e dos rácios normais.
O que é mais importante neste processo de investir em empresas?
O primeiro critério é claramente identificar uma empresa que corporize uma solução que está a resolver um problema grande e que está a resolvê-lo de uma forma muito diferente e muito melhor do que qualquer outra coisa. Pelo menos, a tese base tem de ser essa. E também, na fase em que nós estamos, early stage e com empresas em que existe ainda pouca tração — algumas vendas, alguns pilotos mas em que ainda não existe grande consistência de números — estamos, no fundo, a investir numa equipa. E as equipas têm de ter realmente uma ambição muito grande porque a nossa estratégia de investimento é criar em empresas muito grandes, com grandes avaliações, com grandes resultados e com grandes vendas, e por isso as pessoas têm de ter uma grande ambição, de uma forma positiva. Grande capacidade de trabalho para fazer isso acontecer.
Por outro lado têm de ser pessoas que, para fazer isso acontecer, devem ser muito especializadas naquela área. Para nós, em particular, que somos investidores muito ativos e estamos dentro das empresas — tanto eu como a Cristina e o Ricardo somos muito hands on, porque temos um passado na gestão de empresas e de fundar, além de banca de investimento e consultadoria —, têm de ser pessoas com um espírito de parceria e humildade que nos permita trabalhar em equipa connosco.
O chamado smart money…
Há tipos de investidores que são financeiros puros, que colocam o dinheiro e esperam retorno e relatórios de contas. E depois há investidores que são mais ativos. Porque somos líderes das operações, normalmente, temos de dar um apoio muito grande porque as empresas são muito early stage. Isso requer também da parte do empreendedor ter uma certa humildade. Dificilmente investimos com primas donas, mesmo que a oportunidade nos pareça boa. Porque tem de haver esse fator de parceria, de uma relação boa. Temos a sorte de ter uma profissão de que gostamos e que nos divertirmos a fazer. Mas para isso temos de trabalhar com pessoas que tenham essas características e com quem seja agradável trabalhar.
"Quando vemos as dez maiores empresas do mundo e vemos que as tecnológicas dominam, todas elas começaram com operadores independentes como nós”
Tendo em conta a evolução prevista do mercado, qual será o papel da Indico? Como é que vocês se veem daqui a poucos anos?
Pelo número de empresas que já avaliámos e pela forma como elas chegam até nós — muitas vezes por recomendação de outros empreendedores e de parceiros que temos no ecossistema –, acabamos por ter uma posição bastante proeminente. Necessariamente porque, em venture capital e early stage não há mais nenhum fundo privado a atuar neste momento. E até pelo background, é uma posição um bocadinho única. Isso não quer dizer que não respeitemos os outros operadores de mercado — há operadores ligados ao Estado, às empresas —, dos quais consideramos que somos complementares e com os quais podemos coinvestir. Mas os empreendedores acabam sempre por preferir ter uma liderança independente.
Optamos sempre por liderar a ronda, a não ser em rondas muito grandes porque sabemos a nossa dimensão. Somos muito grandes em Portugal mas não à dimensão internacional, e não achamos que somos mais do que somos. Mas em Portugal os empreendedores sabem que é importante estar com um operador com um track record como o que temos, e que também tem a independência de criar as condições para que a empresa seja a maior possível à escala mundial. Às vezes, com um tipo de operadores, isso não é possível porque há um enviesamento para uma determinada indústria ou solução que convém mais àquele tipo de operador não independente. E isso não é uma questão portuguesa mas acontece à escala mundial.
Quando vemos as dez maiores empresas do mundo e vemos que as tecnológicas dominam, todas elas começaram com operadores independentes como nós. Não começaram com outro tipo de operadores do Estado, ou relacionados com empresas. Não quer dizer que esses operadores não tenham tido também um papel muito importante em determinadas fases da empresa, mas ao início é muito importante estar com quem tem capacidade, precisamente pelo alinhamento de interesses. Muitos dos nossos LPs, investidores — o IEF e outros –, não investem em equipas que não sejam independentes porque eles sabem que o alinhamento de interesses com equipas independentes é o mais perfeito possível. Nós só ganhamos quando as empresas ganham, se as empresas ganham muito nós ganhamos também, mas se o nosso portefólio correr mal não temos mais fundos para gerir. E isso não é possível noutro tipo de operadores, com outro tipo de prioridades, às vezes estratégicas do grupo empresarial, ou do Estado, relacionadas com política industrial. O alinhamento de interesses não é tão puro, não é tão bem feito.
Vão conseguir investir nos próximos unicórnios em Portugal?
Tenho confiança que, se aparecer algum, ele vai passar por nós. Vemos quase tudo o que aparece, era preciso ter azar para deixar escapar um dos poucos que vai aparecer nos próximos anos. Mesmo num país como Espanha, que tem uma dimensão muito maior do que a nossa, um ecossistema muito mais desenvolvido, uma quantidade de exits já com track record de dez anos de saídas muito significativas, tem, se não me engano, quatro ou cinco unicórnios. São poucos os que aparecem, é normal. Em cada indústria, em cada vertical, não passam a vida a aparecer unicórnios, a não ser que sejam uma construção falaciosa e uma bolha. É normal que não surjam muitos em Portugal.

Mas vão surgir mais?
Vão surgir seguramente. Já há algumas empresas que eu acredito que estão no bom caminho para virem a ser unicórnios em Portugal. Algumas da vaga anterior e outras novas que hão de chegar lá. E, às vezes, não é preciso chegarem a unicórnios, às vezes basta que sejam empresas que vêm a ser avaliadas e vendidas por milhões. Se bem que a matemática deste tipo de ativos mostra que muito poucas empresas, mesmo das que passam a Series A, serão vendidas por valores interessantes e são essas que vão pagar toda uma construção de portefólio de cinco a dez anos. Por isso é que esta é uma indústria de winner takes all. São sempre os mesmos fundos, em cada geografia e em cada especialidade, que fazem todos os unicórnios, e são muito poucos unicórnios que surgem.
Há empresas para mais?
Quantos mais fundos existirem, mais empresas teoricamente poderão ser financiadas. A questão é se isso é bom para o ecossistema porque, no fundo, estamos a financiar empresas que nunca deviam ter tido acesso àquele tipo de capital. Isso revela-se como uma perda de capital e de tempo para os envolvidos, que estão a embarcar num sonho que não vai chegar a bom porto. Há um equilíbrio perfeito que é difícil de se atingir entre a quantidade de capital disponível e a quantidade de empresas que vai ser financiada. Não deve ser demasiado capital para não existirem bolhas, nem capital a menos, como nos últimos dois anos, em que basicamente há boas empresas mas que não têm acesso a capital nenhum e, portanto, estão estagnadas. Estamos a chegar a um ponto em que começa a haver capital suficiente — se calhar com mais um ou dois fundos que surgiram ou que estão a surgir, para diferentes fases, os fundos da área social e de transferência de tecnologia são diferentes do nosso — e, portanto, começamos a ter uma cobertura mais perfeita do mercado de venture capital.
Não acho que falte capital nas fases mais à frente porque essas fases já estão cobertas pelos grandes operadores internacionais pan-europeus e americanos. E portanto não vamos estar a suprir uma falha de mercado que não existe.
As startups portuguesas e Portugal têm exposição suficiente para chegar a esses operadores?
Completamente. Já há muitos anos — mesmo antes do Web Summit — que os operadores internacionais iam ao escritório da Caixa Capital perceber o que se passava no mercado nacional. Por causa disso é que empresas como a Talkdesk e a Feedzai tiveram muito financiamento internacional. Os operadores internacionais olham para os operadores nacionais como a fonte de deal flow de qualidade para as fases seguintes, como uma espécie de acesso privilegiado às próximas grandes estrelas a nascer naquele lugar. Já para não dizer que qualquer pessoa apanha um voo para Londres a 40 euros e vai apresentar a quem quiser, basta marcar uma reunião.
Não há hoje em dia nenhuma dificuldade em ter acesso a esses grandes fundos internacionais. Só que esses grandes fundos têm parceiros locais que fazem a filtragem da qualidade do deal flow. E portanto, naturalmente, os bons fundos internacionais não vêm cá investir diretamente nas fases muito iniciais porque não lhes compensa, investem via fundos como a indico, que fazem essa filtragem. É muito parecido com o futebol.
Já é possível estabelecer um perfil de investimento para a Indico, com base no tipo de investimento nestas quatro rondas anunciadas?
À parte de ser uma solução bastante diferenciada no mercado e de ter founders dedicados, conhecedores, ambiciosos e humildes — que é um mix difícil de conseguir, daí investirmos em entre 0,5 a 1% do que vemos —, procuramos empresas que já têm faturação, onde já existem pilotos com que possamos dialogar e perceber se a solução realmente funciona. Depois há dois tipos de áreas fundamentais que acabamos por encontrar em Portugal e também em Espanha: enterprise SaS (software as a service), essencialmente B2B. Depois há um outro layer que é comum a todas as nossas soluções: o uso de dados para melhorar a oferta ao cliente, para vender melhor e para aumentar os resultados da empresa, aquilo a que se chama agora inteligência artificial e que, no fundo, é um tratamento de dados sofisticado que faz com que possa haver um targeting mais imediato que faz com que a máquina aprenda com os resultados e volte a propor novas soluções.
Qual é o papel da sorte no negócio do capital de risco?
A sorte tem um papel muito grande na vida em geral. Claro que a sorte constrói-se, não é por acaso que a Indico existe, não é por acaso que os empreendedores que tiveram sucesso estão onde estão. É muito trabalho, a sorte constrói-se. Mas também há muita sorte envolvida, às vezes a sorte é o momento certo. Ninguém controla o mundo, há muitos imponderáveis, há muitas casualidades e ninguém consegue controlar tudo o que acontece e, portanto, nós podemos ter azar e haver alguém que nos atropela, ou podemos ter sorte e ficar a tomar café com uma pessoa que nos financia de repente. Acredito que há muitas casualidades. E os ciclos do mercado, que não têm nada a ver com a nossa competência individual, para mim fazem um bocadinho parte da sorte. Ou seja, comecei uma empresa quando o mercado estava a subir, fui um excelente empreendedor e gestor. Comecei exatamente a mesma empresa numa altura em que o mercado, por questões completamente exógenas estava a descer, e eu fui um péssimo gestor e um péssimo empreendedor. A sorte é um grande fator e, portanto, não devemos levar-nos muito a sério nem na nossa excelência nem na nossa incompetência. Há de tudo. Mas os fatores externos não dispensam a autoconsciência. Nem tanto ao mar nem tanto à terra. Ninguém é omnipresente nem omnipotente.
A Caixa Capital investiu na Farfetch numa altura que antecedeu a um grande crescimento. As características de José Neves estão presentes no ecossistema empreendedor muito frequentemente? Isso vê-se quando se conhece alguém?
Uma grande parte da avaliação que um investidor faz é informal, psicológica, de quem está à nossa frente. Daí que este trabalho de capital de risco seja uma profissão que, em média, é de pessoas mais velhas, ainda mais velhas do que os próprios empreendedores.
José Neves é, obviamente, é um caso extraordinário porque os resultados falam por si, não é um empreendedor igual aos outros. E há outros tipos de empreendedores extraordinários muito diferentes de José Neves. Quando a Caixa investiu, a Farfetch já era uma empresa grande, não temos nenhum mérito em ter criado uma Farfetch mas, em todo o caso, soubemos identificar que havia ali uma oportunidade, no mínimo financeira. Uma das coisas que se vê muito é se as pessoas têm ambição mas autoconsciente, não é ser nem demasiado positivo nem demasiado negativo. Ter uma ambição realista é uma característica saudável em que é um sinal se a pessoa vai conseguir avançar com força, aquela força interior mas com a cautela natural de quem sabe que não é tudo fácil. É certo que vemos muitos empreendedores que vingam e que têm personalidades altamente exuberantes, agressivas e arrogantes. E vingam. Mas não são muitos, são os que muitas vezes saem nas notícias mas não é necessariamente o role model que procuramos nem necessariamente o que vinga. O que tentamos encontrar e o que vemos nas pessoas é um conhecimento profundo, uma ambição grande mas um grande realismo de entenderem as dificuldades pelas quais vão passar. Esse realismo leva a que, quando há uma dificuldade — porque elas existem sempre, a Farfetch teve inúmeras e ainda terá —, possam ter essa força de autorregulação que permite dar a volta. Porque quando as pessoas são arrogantes e ambiciosas ao ponto de perderem a noção, ninguém é indestrutível e às vezes as coisas correm muito mal. Há muitos fundadores, a começar no Steve Jobs e a acabar no Travis Kalanick, que acabam por ter de sair das suas empresas por perderem a noção das suas próprias capacidades. Não quer dizer que depois não voltem, não sejam uns génios com outra idade, mas é desnecessário. Não estou a dizer que o percurso do Steve Jobs não foi o que foi, e foi excelente. Mas há muitos que não voltam a ser o Steve Jobs. Vejamos o caso da Elizabeth Holmes, da Theranos, que também era omnipresente, omnipotente e acabou muito mal. E não estou a ver que essa regresse tão cedo. Essa confiança interna, e não o excesso de confiança que leva à imprudência, é muito importante.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.




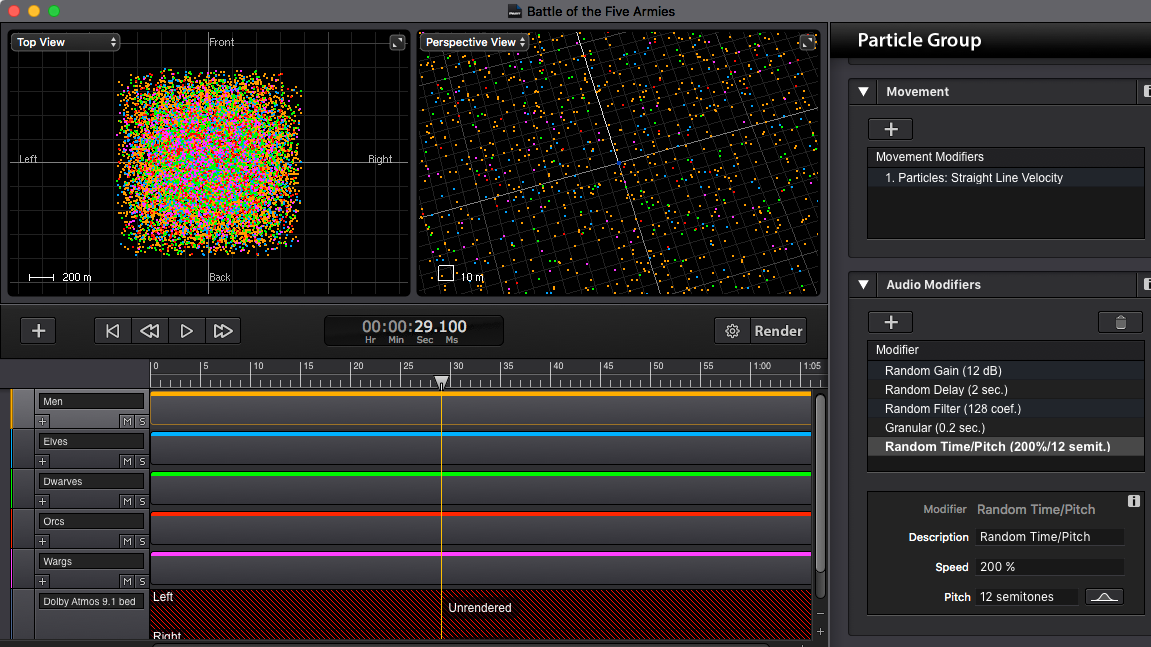
Comentários ({{ total }})
Stephan Morais, da Indico: “Dificilmente investimos com primas donas”
{{ noCommentsLabel }}